
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Muitos cientistas consideram a parapsicologia uma pseudociência. Chris French, diretor da Unidade de Investigação de Psicologia Anomalística da Universidade de Londres, no Reino Unido, confessa que era um deles. Mas, à medida que foi sabendo mais, foi percebendo que há mais gente séria do que charlatões a investigar estes fenómenos. E passou a acreditar.
"Não são coisas sobrenaturais, são coisas naturais que desconhecemos", como diz Etzel Cardeña, professor de Psicologia na Universidade de Lund, na Suécia. "Não podemos continuar a ignorar e a censurar, temos de investigar segundo métodos científicos".
O desenvolvimento humano tem-se focado na materialidade das coisas, com um desequilíbrio visível em todos os domínios, do económico ao social. Para Leanna Standish, neurocientista da Universidade de Bastyr, nos EUA, falta aprofundar a vertente espiritual e estudar fenómenos descritos desde a Antiguidade. "E se tudo estiver ligado, se todos estivermos ligados?", pergunta.
A ciência divorciou-se do estudo destas matérias, sobretudo depois de uma sequência de fraudes no início do século XX, que descredibilizaram avanços e afastaram cientistas. Mas é à ciência que cabe investigar e esclarecer a humanidade sobre todos estes fenómenos — esotéricos, mitos ou milagres. Sem preconceitos.
E é também assim que surge Para Além do Cérebro, uma iniciativa da Fundação Bial, com orientação científica do neurocientista Nuno Sousa. Composta por 16 episódios, explora a investigação científica sobre a mente humana e o paranormal na perspetiva de 50 cientistas e especialistas de todo o mundo — ligada aos simpósios Aquém e Além do Cérebro, que reúnem investigadores para discutir as neurociências e a parapsicologia.
Telepatia ou transmissão de pensamento, vidas passadas, clarividência ou precognição, psicocinese (mover objetos sem contacto físico), experiências fora do corpo — até onde vai o poder da mente? Cientistas e médicos acreditam que, ao contrário do corpo, a consciência não acaba.
Hoje, pensa-se que a maioria das pessoas tem alguma sensibilidade além dos cinco sentidos. Uns mais, outros menos, todos temos perceção extra-sensorial. O que parece seguro dizer é que estas características desenvolvem-se mais quando estimuladas e são abafadas ou desaparecem quando reprimidas.
Não admira que os Estados Unidos tenham tido durante anos o Programa Stargate, criado com o objetivo de desenvolver aptidões extra-sensoriais entre as tropas norte-americanas. O programa fomentava a espionagem à distância e a antecipação de eventos futuros. O exército queria treinar "analistas psíquicos", como lhes chamava, e, ao longo de anos, os EUA trabalharam com 12 especialistas deste género. A União Soviética terá tido 150. As missões de espionagem de ambos os países usavam a precognição e a visão remota.
Na lista dos dez maiores cientistas da história aparecem figuras como Albert Einstein, que escreveu sobre telepatia, ou Marie Curie, Nobel da Ciência, que participava em sessões espíritas com o marido. Não é preciso ser supersticioso para o fazer — e menos ainda para o investigar. Como diz Nuno Sousa: "Ou a hipótese nos vence, ou nós vencemos a hipótese".
O que leva um neurocientista a orientar uma série de 16 episódios sobre parapsicologia, com temas à partida tabu para os cientistas?
O que a Fundação Bial faz é apoiar a investigação de qualidade neste domínio sem nenhum preconceito, tal como criou mecanismos de apoio à investigação na área da psicofisiologia — leia-se, neurociências.
Realmente, a parapsicologia aborda um conjunto de temas que fogem ao mainstream, fogem da área das neurociências clássicas, mas fazemos isto apoiando projetos com qualidade científica, que são avaliados por peritos internacionais. Quando esses projetos têm bons desenhos experimentais, a Fundação apoia-os.
Não estamos a apoiar projetos para dizer que determinada coisa funciona ou deixa de funcionar; estamos a apoiar para saber qual a evidência científica que sustenta — ou não sustenta — estas questões neste domínio. É isso que esta série pretende.
A parapsicologia, de facto, é uma área que, por várias razões, é menos apoiada do ponto de vista financeiro. E o Conselho de Administração da Fundação entende que excluir essa área é um erro, porque hoje, ao tornarmos estes assuntos marginais e quase obscuros, a única coisa que fazemos é promover o charlatanismo.
A ciência tem sido excessivamente conservadora em relação a determinados assuntos, a determinados fenómenos?
Sim. Porque a ciência é feita por pessoas e as pessoas são pessoas — e, felizmente, gostam de ser pessoas. Por isso, introduzem aí um conjunto formidável de conceitos e de preconceitos.
Encontrou resistência nos seus pares quando lhes disse, por exemplo, que ia orientar o documentário Para Além do Cérebro?
Sim. Sim. Várias pessoas perguntam-me: "Como é que um neurocientista como tu, que já publicou centenas de artigos e é um dos mais citados no mundo, se associa a estas coisas?".
O que respondeu?
Associo-me sempre a tudo aquilo que promove o conhecimento, independentemente do tema.
É isso que nos faz avançar?
Absolutamente. Confesso que às vezes até fico um bocadinho incomodado, quase irritado, com a pergunta, que é uma pergunta dogmática, preconceituosa. Repare, ninguém me pergunta em que tipo de projetos estou envolvido. Mas, como sabem que estou associado à Fundação Bial — e que a Fundação Bial apoia esta área —, fazem-me frequentemente essa pergunta, como se promover investigação de rigor e qualidade num domínio fosse dizer que acreditamos cegamente naquelas coisas. E fico ainda mais admirado quando isso vem de colegas que também estão na investigação.
Se não fosse assim, não descobriríamos nada. E é exatamente isso que a Fundação pretende fazer: tratar estes assuntos com o respeito que merecem, de forma a que se conheçam melhor e se iluminem os aspetos positivos. Enquanto neurocientista e membro do Conselho de Administração, é isso que faço.
Como dizia a outra, "não negue à partida uma ciência que não conhece"?
Se me perguntar se acredito ou deixo de acreditar nestas coisas, a minha resposta é: não acredito até ver a evidência. Se houver evidência, acredito; se não houver evidência, não acredito. Porque isto não é uma questão de crença, é uma questão de recolher evidência científica e trabalhar sobre ela.
Agora, aquilo em que não acredito é em preconceitos. Se houvesse preconceitos, provavelmente hoje ainda se achava que a Terra era plana. Se houvesse preconceitos, hoje ainda não se fazia acupunctura moderna no Ocidente — e, como sabe, todas as instituições hospitalares oferecem essas terapias, nomeadamente na modulação da dor.
Se assim fosse, toda a evidência criada à volta do impacto positivo do mindfulness não existiria — e atualmente toda a gente pratica mindfulness com naturalidade, é mainstream. E os neurocientistas fazem centenas de estudos, o que há 20 anos seria impossível.
Ou seja, Para Além do Cérebro são experiências conduzidas por cientistas, segundo o rigor científico, com zero preconceito?
É isto que fazemos e é isto que pretendemos continuar a fazer. É esta a missão da Fundação neste domínio, e esta série documental de 16 episódios procurou reunir opiniões de pesquisadores internacionais para falar sobre o assunto. E fazem-no com uma neutralidade formidável: há pessoas que apresentam resultados, pessoas que contestam esses resultados. Fazem-no com elevação, mas sempre com mente e espírito abertos àquilo que é o conhecimento.
Porque há realmente um preconceito relativamente a esta área, há um preconceito em relação a estas iniciativas da Fundação, quando aquilo que estamos a fazer é exatamente o oposto.
Por isso, fico muito aborrecido quando as pessoas dizem: "Eh pá, mas isso não é ciência". Claro que é ciência. É ciência, porque é ciência sem preconceitos, sem tabus, sem dogmas.
Todos os temas — da telepatia à mediunidade, passando pelas experiências de quase morte ou vidas passadas — são abordados por colegas que fazem investigação nessa área, que não é a minha, com rigor. E a evidência que colectaram e que reportam ao longo da série deve ser encarada com toda a atenção.
Da mesma maneira que algumas teses foram descartadas, outras confirmaram-se e vale a pena continuar a investigar. Quais?
Todas as que estão reportadas na série, porque obviamente são aquelas que, no entender daquelas pessoas, merecem mais atenção — reconheço que também há ali uma perspetiva que é dos próprios. Mais uma razão para isto ser feito sob uma lente, que é a lente do método experimental e que promove a recolha de evidência de grande qualidade.
São estas nuances que temos de considerar quando estamos a falar destes temas e destes assuntos. Insisto, sem nenhum dogmatismo. É esse o propósito da Fundação Bial.
Muitos projetos que apoiámos demonstraram que a tese não era verdadeira, ponto. Ou, pelo menos, não era replicável.
Mas também há projetos que confirmam, com evidência científica robusta e de qualidade — umas vezes com explicações muito sólidas, outras vezes com mecanismos que ainda importa apurar —, que há outras dimensões, que apontam no sentido de que determinada tese tem algum fundamento.
Qual o método de investigação seguido? Como se isolam variáveis como a contaminação, a sugestão, a coincidência?
O método e os mecanismos são os mesmos que são usados noutras áreas da investigação científica relacionada com o cérebro e com a atividade cerebral. Do ponto de vista metodológico, diria que não há diferenças significativas. O tópico é que é distinto e as variáveis, por sua vez, são também distintas. É a abordagem que queremos. Ao fazê-lo, afastamos-nos do achismo — que muitas vezes é promovido e até levado a extremos perigosos — e concentramos-nos naquilo que merece mais estudo.
Sempre que estamos perante um facto que não conseguimos explicar, temos de ir atrás das dúvidas, encontrar explicações. É essa a essência da ciência: ir à procura de uma resposta para uma pergunta, para um fenómeno, para uma hipótese científica e, como defendem os grandes filósofos da ciência, lutar contra essa hipótese. Umas vezes a hipótese vence-nos, outras vezes nós vencemos a hipótese.

Qual foi o fenómeno mais surpreendente para si, o que é que o deixou na dúvida e a querer saber mais?
Há temas que me causam maior estupefação, no sentido de que são mais afastados daquilo que é o meu framework mental de entendimento. Quanto mais afastado está daquilo em que eu, nos meus preconceitos cognitivos, acredito, mais espanto me causa. Não estou com isto a dizer que, a partir de agora, para mim tudo aquilo é verdade.
Por exemplo, quando se está a falar dos assuntos muito relacionados com a consciência, que é um tema que está muito próximo daquilo que eu investigo, daquilo com que trabalho, é-me mais confortável, conheço muito melhor. Quando se fala de estudos de experiência de quase-morte, são assuntos sobre os quais tenho maior domínio científico, ainda que tenha muito desconhecimento.
Noutros domínios, tenho menos conhecimento e fico mais surpreso com o tema, mantendo esta dúvida existencial que tenho perante qualquer assunto da vida e da ciência. E é esta a postura que eu gostava — e muitos —, gostaríamos de promover à volta da ciência, aquilo que alguns designaram como dúvida metódica.
Pode dar um exemplo de algo em relação ao qual era cético à partida?
Há pessoas que relatam experiências de quase-morte, e não são poucas. Há um padrão no relato destas pessoas e há também um conjunto de estudos que demonstram alguma atividade cerebral distinta nesses períodos.
Eu tenho uma visão: é porque há um estado de isquemia [redução ou interrupção do fluxo de sangue (e, portanto, de oxigénio)], em que a libertação de determinados neurotransmissores faz com que aquelas pessoas experienciem essas sensações. Porque é que todas descrevem algo similar? A minha explicação é porque pode haver contaminação cultural, mas essa é a minha explicação enquanto neurocientista de mainstream.
Mas existe uma teoria mais dual, de que há outras formas de explicar este fenómeno. Há aqui um diálogo e é isso que merece ser estudado. Vamos estudar, ver o que é verdade e o que é mentira; não podemos simplesmente dizer que todas as pessoas que reportam este tipo de experiência estão a mentir — isso também seria um abuso.
As questões da consciência e dos estados alterados de consciência são áreas que merecem profundo estudo. São os trabalhos científicos nesta área que tentamos promover e discutir com alguma seriedade.
Se fenómenos como a telepatia ou a precognição vierem a ser comprovados, que consequências científicas e até filosóficas teria essa descoberta, qual o impacto?
O mesmo que tem qualquer outra descoberta. Imagine que eu, na minha qualidade de médico — e às vezes acontece —, estou envolvido em estudos que promovem conhecimento à volta de uma intervenção terapêutica para saber se ela é ou não mais útil do que o gold standard usado naquela condição. Umas vezes prova-se que sim, outras vezes prova-se que não.
Quando se prova que sim, o impacto é que, a partir daquele momento, adicionamos mais uma intervenção terapêutica com evidência, que, eventualmente, é melhor do que o gold standard.
Nestas áreas, é rigorosamente igual. Por isso dei o exemplo do mindfulness: hoje existe alguma evidência a favor do uso destas intervenções, mas só em algumas condições. Não existe nenhuma evidência de que o mindfulness vá tratar uma crise de gota — até duvido que alguém consiga estar suficientemente concentrado perante um quadro tão doloroso. Se me provarem que funciona, mudo a minha opinião. Agora, se vier ter comigo um doente com uma crise de gota, não lhe vou recomendar que faça mindfulness, que, no limite, até pode ser negativo, porque vai atrasar o acesso às intervenções terapêuticas que realmente lhe permitiriam melhorar aquela condição.
Temos de ser honestos do ponto de vista intelectual. Acredito no mindfulness? Acredito no seu efeito benéfico em algumas áreas. Aliás, não é uma questão de acreditar, li a evidência que me permite fazer esta afirmação.
A sua tese, numa área completamente diferente, veio contrariar uma verdade adquirida, não foi? Um desafio feito por outro neurocientista, que tinha a ver com a morte neuronal numa determinada zona do cérebro.
Exatamente, absolutamente verdade. Foi muito do diálogo com o investigador que a promoveu que levou a uma conclusão bastante distinta. A ciência é isso mesmo: quem me dera a mim poder corrigir todos os disparates científicos que disse e que escrevi. Preferia ser eu a corrigi-los do que serem outros colegas. É como diz o outro, nada de novo aqui, isto é ciência.
O que o levou a querer estudar o cérebro e, depois, o stress?
Nasci no Porto, onde vivi muitos anos, fiz a minha formação na Faculdade de Medicina do Porto e sempre tive interesse pela área do estudo do cérebro, das neurociências. Foi-me dada a oportunidade de fazer investigação nessa área e foi aí que comecei, ainda enquanto estudante, os meus trabalhos de investigação científica, pelos quais obviamente me apaixonei e que ainda hoje me motivam do ponto de vista das questões relacionadas com a investigação.
De onde vem esse fascínio pelo cérebro?
O fascínio pelo cérebro é algo que eu trazia da minha adolescência, de um conjunto de leituras que ia fazendo e também desta questão fundamental que é: será que posso entender um pouco melhor, ou contribuir para entender um pouco melhor, como funciona este órgão que nos dá simultaneamente significado e significância?
Porquê a evolução para o estudo do stress e as repercussões que tem no envelhecimento?
No ano em que entrei na Faculdade de Medicina do Porto, foi publicado um artigo destes autores: Pop Sapolsky, Lewis Krey e Bruce McEwen, a postular uma teoria chamada Glucocorticoid Cascade Hypothesis [propõe que o stress crónico leva a um ciclo vicioso de degeneração cerebral, particularmente no hipocampo]. Li o artigo, interessei-me pelo tema e senti que havia ali um conjunto de questões que mereceriam uma análise distinta e mais profunda. Fazia parte de um laboratório de investigação onde tinha condições para fazer essa abordagem científica, e foi isso que fiz.
Depois, a viagem é mais ou menos fácil de explicar: comecei a utilizar um conjunto de técnicas distintas, já na Universidade do Minho e com outros estudantes, para estudar outras áreas do cérebro além daquela região inicial, que era a formação do hipocampo. Fizemos estudos de conectividade, para tentar estudar não só as redes neuronais de forma mais complexa, mas como é que o stress influencia padrões comportamentais, como a memória, como a flexibilidade cognitiva, como a tomada de decisão.
Primeiro, todos os estudos tinham sido feitos em modelos animais e, depois, com muitos colegas e colaboradores, fiz uma transição para estudos humanos. Isto em paralelo com um conjunto de muitos outros temas que fui abordando ao longo de muitos anos já de investigação científica.
Há stress bom e stress mau?
Não, só há stress bom. Repare, se não houvesse stress, não havia seres humanos à face da Terra. O stress é algo fundamental, o stress é algo que nos permite adaptar aos desafios internos e externos.
Há uma resposta a estes estímulos que nos fez evoluir, que nos faz aprender, que nos torna mais preparados. O que acontece é que, em determinadas circunstâncias e perante determinados estímulos, há indivíduos que desencadeiam, com essa resposta, um processo que é mal adaptativo e promove dano em vários sistemas do corpo humano, entre os quais o sistema nervoso central.
Em resultado disso, o stress passa a ser um gatilho para um conjunto de fenómenos neuropatológicos que também estão envolvidos nos processos fisiopatológicos de outras doenças neurológicas e psiquiátricas.
É aí que está esta associação. Depois, há um processo que pode ser cumulativo, e esse processo influencia processos neurodegenerativos, como os quadros demenciais; processos psiquiátricos, como as alterações relacionadas com a ansiedade e com variações de humor; e, ao longo do tempo, também uma aceleração — uma deterioração cognitiva, se quiser — que tipicamente se associa aos processos de senescência, envelhecimento neuronal.
Por que motivo é que as pessoas reagem ao stress de formas diferentes?
Não sei que tipo de stress esta conversa lhe está a causar, mas seguramente não é indiferente. Se for agradável e estiver preparado para ela, pode gerar no cérebro um conjunto de padrões que são interpretados como padrões positivos e que me preparam para futuras conversas desta natureza.
Mas imagine que, ao longo da conversa, eu ficava muitíssimo ansioso, muitíssimo perturbado. No limite, poderia desencadear uma espécie de uma experiência traumática, que podia deixar uma pequena cicatriz neurológica, fazendo com que, da próxima vez que eu fosse contestado para uma conversa com um jornalista, ficasse imediatamente perturbado.
É basicamente esta bifurcação que pode acontecer — e estou a ser extraordinariamente simplista. Aliás, esta bifurcação é alvo de uma parte dos projetos científicos que tenho promovido com os meus colaboradores: entender porque é que, em determinadas pessoas, isto é adaptativo e, noutras, provoca reações inadequadas.
Não te enerves que ficas velho. É verdade que o stress provoca envelhecimento?
Sim, porque, à medida que temos stress, significa que temos mais experiências e, portanto, o tempo passou. Só por essa razão, sim. Quando temos uma boa resposta a determinado estímulo, de facto estamos melhor preparados e, provavelmente, ganhamos mecanismos para envelhecer menos ou a um ritmo mais lento.
Se aquilo nos causa tanta perturbação que até pode assumir estes quadros mais patológicos ou inadequados do ponto de vista comportamental, de facto isso pode acelerar estes processos associados à senescência. E é isso que também temos vindo a estudar.
Quando submetemos modelos animais a períodos muito prolongados de stress que não lhes permitem montar uma resposta adaptativa, aquilo que nós vemos é que existem algumas assinaturas moleculares comuns às que observamos noutras patologias, nomeadamente quadros demenciais, logo à cabeça o Alzheimer.
Portanto, vemos que estes níveis de stress crónico e os seus mediadores — as hormonas e os neurotransmissores que medeiam este stress crónico — , promovem um aumento da fosforilação de uma proteína intraneuronal, a tau, que é similar ao que observamos na demência de Alzheimer, ou promovem uma clivagem de uma proteína, formando fragmentos que vão dar origem a placas de amiloide. Esta associação existe.
Se podemos dizer que o stress causa Alzheimer? Não, porque não há uma relação causal. Mas existe esta correlação e associação.
Dizemos que somos uma sociedade cada vez mais stressada. É verdade?
Acho que isso não é nada verdade. O facto de essa frase ser repetida um milhão de vezes não a torna verdadeira.
Se pensarmos no stress que um cidadão comum teria há 200 anos, só para ter acesso aos alimentos ou para não morrer de frio, perceberíamos que esses níveis de stress eram formidáveis. Repare, há aqui dois enviesamentos: o primeiro é que desses não reza a história — apenas a casta de nobres que vivia em castelos, e não a legião de servos que vivia em situações absolutamente miseráveis. Mas ninguém fala dos miseráveis.
Segundo aspecto: a esperança média de vida há 200 anos era próxima de metade do que é hoje. As pessoas morriam muito cedo, basicamente, não havia diagnósticos de quadros demenciais — raríssimos aos 40 ou 50 anos de idade. Isto mostra alguns vieses da evidência cientiífica que alteram a perceção, mas que para quem não percebe de ciência ou não está atento são uma pequena armadilha.
Outro aspecto: há 200 anos, a capacidade de comunicar era extraordinariamente reduzida; limitava-se a um círculo bem pequeno, também com honrosas exceções. Portanto, mesmo que a pessoa tivesse muito stress por estar com fome ou com frio, provavelmente só diria às duas ou três pessoas à sua volta — que, provavelmente, viviam nas mesmas circunstâncias e achavam aquilo um estado normal.
Hoje em dia, se me sentir mais perturbado, pego no telemóvel e consigo disparar isso para milhares de pessoas, para centenas de milhares de pessoas. E isto repete-se. Além disso, há uma consciência, uma awareness muito maior destes assuntos, que hoje são muito mais estudados, e o estigma à volta destes assuntos diminuiu. É mais confortável falar sobre eles; hoje em dia quase ninguém fica estigmatizado por dizer que está debaixo de grande stress, até já se usam outros nomes, fala-se de forma muito mais aberta sobre estes assuntos.
Todas estas coisas são fantásticas, são ganhos que considero civilizacionais, porque permitem que, falando, se esclareçam melhor estes assuntos, se façam intervenções remediatórias quando elas são necessárias, algumas de foro terapêutico, muito mais cedo e com muito mais sucesso.
O cérebro evoluiu enquanto órgão ao longo do tempo ou mantém-se desde o homem das cavernas?
O hardware é basicamente o mesmo, para além daquilo que mais o influencia, que é a informação e o acesso à informação, que não tem comparação, obviamente. Existem também fenómenos biológicos que explicam que haja algum nível de evolução, que não tem necessariamente que ser pelos processos genéticos clássicos — até porque não há escala temporal para medir isso — e que passa muito mais por novos processos que se conhecem hoje, nomeadamente processos epigenéticos [modificações na forma como os genes funcionam sem alterar a sequência do ADN], que determinam algum nível de evolução. Isto diria que é indiscutível.

O cérebro tem género?
Sim, como todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo têm material genético e, portanto, têm género — excluiria os eritrócitos quando estão em circulação, que são células anucleadas e, por isso, é um bocadinho mais duvidoso, mas é por razões fisiológicas e já foram células com núcleo.
Portanto, a resposta é sim. A expressão desses cromossomas associados ao sexo, e que depois dão origem à expressão do género, é que é muitíssimo variável; existe aqui um intervalo gigante. Mas também é verdade que existem comportamentos e mecanismos fisiológicos mais frequentes em indivíduos que apresentam cromossomas XY, e outros mais frequentes em indivíduos que apresentam cromossomas XX.
Se, à partida, temos um cromossoma X e um cromossoma Y ou outro cromossoma X, já não somos iguais, ponto. Isso é tão verdade como um punho. O que não se pode é fazer juízos de valor sobre a expressão mais complexa que daí resulta, que depois encontramos na definição de género e nos padrões fisiológicos e comportamentais que lhes são associados.
É mito ou realidade que só utilizamos 20% do cérebro?
É mito, porque há quem diga que é só 10%, há outros que dizem 20%. Usamos aquilo que temos de usar e, seguramente, usamos um número de neurónios distintos perante os desafios que temos pela vida e aquilo que estamos a fazer. Se usamos toda a capacidade a cada momento, a resposta é não.
Li que, quando estava ligado à Universidade do Minho, havia em Medicina uma simulação de consultas em que falsos doentes se apresentavam aos alunos.
Já não estou ligado à Universidade do Minho. Mas sim, havia um conjunto e exames de competências clínicas em que havia uma sala onde estava o doente simulado, o estudante e, eventualmente, o professor, que podia estar dentro ou fora da sala. E aquele encontro entre estudante e doente — o paciente estandarizado — estava a ser filmado com um intuito pedagógico, para que depois aquele estudante pudesse observar e corrigir alguns dos comportamentos, das competências clínicas que estavam a ser aprendidas, treinadas e desenvolvidas.
Há alguma história caricata de que se recorde?
Nenhuma, porque eram momentos de aprendizagem. Aquilo que acho mais notável ou surpreendente, entre aspas, é algo que se repete frequentemente: a absoluta ou relativa perda da sensação de tempo. Várias vezes, estudantes reportavam que achavam ter passado muito tempo naquele ambiente simulado e, quando saíam, ficavam muito admirados porque só tinham passado dois ou três minutos. Para eles tinham sido dez, quinze, vinte minutos. E este desalinhamento, se quiser, entre o tempo percebido e o tempo real é muito interessante e seguramente tem várias explicações.
Também tem a ver com o stress, não?
Sim, claro.
O cérebro é um mapa de gostos e desgostos?
Sim, é uma boa metáfora. Porque não é só um neurónio, é um conjunto, é uma rede a funcionar. Os neurónios são todos diferentes. Provavelmente, cada neurónio é diferente do seu vizinho, e isso é algo que é fascinante à volta do sistema nervoso central, até porque é um órgão que, devido ao seu elevadíssimo nível de diferenciação, praticamente não sofre divisão celular após o nascimento, com duas pequenas excepções — duas áreas muito específicas —, e por isso é voz comum dizer que os neurónios que temos quando nascemos são aqueles que vamos ter. Entretanto, vamos perdendo alguns.
Morre-se de amor? Ligamos muitos sentimentos ao coração, que é um músculo, mas sabemos que é no cérebro que se processam as emoções.
Não. Pode-se morrer de falta de amor. Obviamente que paixões assolapadas também podem desencadear fenómenos, talvez até menos positivos, mas a falta de afeto, a falta de contacto social, obviamente, têm um impacto muito fundamental em inúmeros processos mentais. Inúmeros.
Nomeie três objetos sem os quais não pode viver e porquê.
Tenho muita dificuldade em viver sem o computador. Costumo dizer a brincar que prefiro que me roubem o carro do que o computador, porque, enfim, estou muitíssimo dependente dele e, portanto, de todos os gadgets que lhe estão associados.
Depois, confesso que tenho dificuldade em viver sem o café expresso da manhã; gosto do meu moinho, todos os dias moo o café que depois tiro numa máquina expresso, gosto do cheiro. Mas não é a máquina em si, é o conceito.
E tenho hoje um grande afeto pela minha Vespa, gosto de entrar na Vespa e viajar, sobretudo quando vou acompanhado por alguém que amo.
O que está a estudar em relação ao cérebro e qual seria, para si, a grande descoberta?
Estou envolvido em inúmeros projetos. Nesta altura, tenho um interesse muito acentuado sobre esta bifurcação da resiliência versus vulnerabilidade a estímulos stressantes. Entender quais são as redes neuronais que determinam a suscetibilidade, para mim, hoje, é uma grande questão científica. Entender isso melhor seria um contributo interessante, poder predizer quem são aqueles que têm maior suscetibilidade e fazer intervenções terapêuticas antecipatórias.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

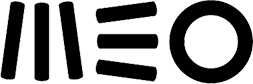
Comentários